ANA CAROLINA CARVALHO¹
QUEM GOSTA DE LER COSTUMA COMENTAR COM AS PESSOAS PRÓXIMAS SUAS IMPRESSÕES SOBRE O QUE LEU. ESTE É UM COMPORTAMENTO LEITOR QUE PROPORCIONA BOAS INTERAÇÕES. COMO DISSEMINAR ISSO NA ESCOLA PARA AMPLIAR O GOSTO PELA LEITURA?

Uma cena bem comum nas escolas, depois de o professor ler um texto literário para as crianças, é propor uma atividade para saber o que os alunos compreenderam do que foi lido. Ao passar pelas salas de Educação Infantil, não é raro encontrarmos propostas de desenho da cena preferida da história, do personagem mais marcante, de um cenário da história. No Ensino Fundamental, as propostas costumam variar um pouco. Em geral, formulam-se várias perguntas para verificar se os alunos leram o texto ou se compreenderam a “mensagem” do texto o que pode contribuir para afastar as crianças dos livros. Mesmo propostas aparentemente mais “leves”, como escrever uma frase sobre a história, o nome do personagem preferido, a proposição em desenho ou texto com um fim diferente ou uma dramatização de uma história, não contribuem para aproximar as crianças da leitura. Por que essas propostas ainda são frequentes? Será que elas ensinam às crianças algo mais sobre a leitura de literatura? Ou sobre o que significa ler por prazer? O que é comum fazer depois de uma leitura? Desenhar? Escrever um final diferente? Dramatizar? Se a intenção é mostrar aos alunos as variadas dimensões da leitura literária, em quais delas essas atividades se encaixariam?
1 Psicóloga, formadora do Instituto Avisa Lá, mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – São Paulo.
Lembro-me de algumas conversas que tive com professores com o intuito de entender esse mito relativo ao que fazer depois de ler. Por exemplo, depois de uma boa leitura, pedir para desenhar a parte que mais gostaram. Quanta reclamação! Não era raro ouvir, em uníssono: nós não queremos desenhar, queremos falar sobre o texto, conversar sobre o que sentimos, contar algo de que nos lembramos, trocar impressões com outros leitores.
E é compreensível que os professores queiram fazer tudo isso depois de uma leitura, pois é isto mesmo o que fazemos quando lemos e desejamos compartilhar o que foi lido com outras pessoas. Estes são comportamentos leitores típicos, e ser leitor significa expor suas opiniões. Conversar sobre o texto, trocar ideias com outros leitores, reler trechos preferidos, indicar aquilo que lemos para outra pessoa. Nada de desenhar, escrever outro final ou dramatizar, certo? Então, por que propor isso às crianças?

Desenhar, dramatizar para compreender?
Certa vez, numa palestra na região Norte do Brasil, um professor, muito indignado, me interpelou: eu proponho que as crianças desenhem depois de ler porque a arte é uma forma de expressão infantil muito importante e eu acredito que desta maneira elas se expressam muito melhor. Respondi a esse professor que, logicamente, o desenho tem de estar no cotidiano da escola; deve ser foco de investimento constante, diário e permanente do professor, que precisa conhecer o percurso da criança em relação ao desenho para propor atividades que possam instigar os alunos, oferecer desafios etc. Mas o desenho, considerando toda a sua importância, não faz parte dos comportamentos leitores, ou seja, das ações realizadas quando lemos uma história. Neste caso, podemos até escrever uma resenha, uma indicação literária, mas é muito difícil que venhamos a escrever outro final, assim como é quase impossível que desenhemos algo da história.
E a dramatização? Talvez a distância do desenho e da proposta de escrita de outro final fique até mais evidente em relação aos comportamentos leitores. Mas o que dizer da dramatização? Já ouvi bastante
em encontros de formação: As dramatizações não ajudam os alunos a se apropriarem do texto? Sim,
penso que podem ajudar na apropriação do conteúdo do texto, mas será este o objetivo último da formação de leitores? É para isso mesmo que lemos literatura? O que mais importa numa história é o
conteúdo ou a forma como ele foi escrito, aparecendo aí o trabalho do autor, a maneira como ele nos conta algo; a forma como nos envolve na história, em seu drama, nas suas tramas? Quando escolhemos uma atividade de dramatização, em geral não privilegiamos o que a literatura tem de mais precioso. Resumimos frases, inventamos um modo de falar, eliminamos partes do texto. Mas não existem romances e contos que são adaptados para o teatro? Sim, é evidente. Mas seria preciso realizar um trabalho de adaptação do texto, o que em geral não acontece. Dramatizar implica conhecimentos e textos específicos. Certamente, caberia muito mais dramatizar textos teatrais, que, aliás, costumam entrar muito pouco na escola.

Para além de medir e checar
De onde vêm, então, essas práticas, esses mitos escolares em torno da leitura? Lembro-me de uma palestra² do escritor Bartolomeu Campos de Queirós³ em que ele questionou a necessidade de a escolar medir tudo, dar nota para tudo. O que fazer no caso da literatura? Dá para medir a relação dos alunos – ou de qualquer pessoa – com o texto literário? O que acontece quando lemos literatura? Para que caminhos um texto pode nos levar? Que conhecimentos, pensamentos, experiências acionamos
quando lemos um texto que nos toca? Será que nós mesmos, com leitores, temos consciência de tudo o que pensamos quando entramos em contato com um texto, como ele nos emociona, de que maneira nos muda? Temos consciência de algumas coisas, mas não de todas.
Na escola, quando lemos um texto para os alunos, também temos de levar em consideração que muito do que eles irão pensar e sentir pode nos escapar. Não porque fomos displicentes ou maus professores, mas porque esta é uma condição deste objeto, que é a literatura. Os silêncios do texto, a sua força, a forma como é construído determinam aproximações muito subjetivas com a escrita, e se a escola pretende formar leitores, terá de lidar com esse fato inexorável: não vai controlar4 tudo o que o texto provoca em seus leitores. Não dá para transformar toda essa aproximação em atividades. Ou, como nos disse Bartolomeu, não dá para medir esse contato.

Não seriam essas propostas de desenho, de escrita e de dramatização uma tentativa de controlar o que os alunos entenderam do texto? Mas qual seria a forma de o professor se aproximar mais daquilo que os alunos pensaram sobre o que leram, qual a compreensão que tiveram, senão por uma conversa sobre as impressões acerca da leitura? Divagações variadas sobre o que foi lido, associações de cada um? Olhar para a beleza do texto, para o modo como o autor nos apresenta aquilo que deseja contar e conversar sobre isso?
A troca de impressões
Cecília Bajour, em seu livro Ouvir nas entrelinhas – o valor da escuta nas práticas de leitura5 , afirma que falar sobre um texto é, de certa forma, “voltar a lê-lo”, e a conversa pode ser muito reveladora sobre a forma como nos relacionamos com aquela leitura, de que maneira aquilo nos tocou, o que pensamos sobre ele. Quando falamos para um outro a respeito do que pensamos, entramos em contato com o texto de outra maneira e nos apropriamos de nossa leitura, de nossos pensamentos sobre aquela leitura e reconhecemos os efeitos daquela escrita em nós.
Segundo Bajour:
A explicitação daquilo que sussurra nas cabeças dos leitores – ou seja, a manifestação da palavra, do silêncio e dos gestos que o encontro com os textos suscita – leva-me a compartilhar a afi rmação de Aidan Chambers de que o ato de leitura consiste em grande medida na conversa sobre os livros que lemos. Em seu livro Diga-me, imprescindível para pensar o tema da escuta, ele inclui o texto de um colega que cita Sarah, uma menina de oito anos: “Não sabemos o que pensamos sobre um livro
até que tenhamos falado dele”6.
2 Seminário Prazer em ler, organizado pelo Instituto C&A, realizado em São Paulo (SP) em 2007.
3 Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012) foi um escritor mineiro. Destacou-se, sobretudo, pela sua prosa poética e escreveu em
torno de 40 livros, em sua maioria, destinados ao público infantojuvenil. Entre seus títulos de maior sucesso estão Até passarinho
passa, Onde tem bruxa tem fada, Por parte de pai, Vermelho amargo, entre outros.
4 Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário, de Delia Lerner. Editora ArtMed: Porto Alegre, 2002. Neste livro, a autora
desenvolve essa questão do controle em relação à leitura, observando que os únicos aspectos que podem ser controlados na leitura
são: a habilidade, a fluência e a checagem de conhecimento. De fato, a experiência leitora não se encaixa nos moldes do controle.

A autora vai um pouco mais longe, ao desenvolver a ideia de que a conversa com outros leitores também possibilita novas construções de sentido, já que é a partir de trocas de impressões sobre o texto, de fragmentos de ideias, sensações, associações, que podemos ampliar nossa relação com o texto, expandir os sentidos, transformando nossa primeira aproximação a partir dos olhares de outros leitores, de suas associações, de suas histórias com aquela leitura.
Mas… será que é somente a leitura que nos ensina a conversar sobre o que lemos? Ou seja, basta ler para saber conversar? Ou isso também aprendemos? Se uma aprendizagem é necessária, o que é preciso ser feito para que possamos aprender? É provável que aquele professor que me interpelou na palestra também estivesse querendo me dizer o seguinte: Desenhar meus alunos já sabem, mas será que saberiam conversar? E eu poderia responder a ele, se nossa conversa tivesse ido mais longe: talvez não saibam, mas podem aprender. Sim, a conversa entre leitores é um comportamento, uma ação que se aprende e se aprimora, e se a escola pretende formar leitores, é também a sua função proporcionar trocas significativas, conversas entre leitores que possam ressignificar e enriquecer a aproximação,
os entendimentos, as associações possíveis que o texto pode propiciar.
5 Editora Pulo do Gato: São Paulo, 2013.
6 Idem, p. 22.
7 A literatura infantil nasce com a escola da época moderna e com um novo conceito acerca da infância, como uma fase especial, que
necessita de cuidados nas esferas física, moral e psicológica. Este conceito, como observou Philippe Ariès, foi cunhado a partir das
transformações da família, que passou a adquirir novo enquadramento (nuclear) com o fim do feudalismo e entrada na época moderna. A literatura infantil surge como um instrumento da escola, para ajudar a educar/moralizar as crianças.
A conversa e as lições de moral
Não é que a conversa após a leitura não exista na escola, mas, muitas vezes, ela costuma seguir alguns contornos específicos, que têm a ver com a própria história de inserção7 da leitura literária no meio escolar. O trecho a seguir, extraído do meu diário de formação, exemplifica o que estou dizendo:
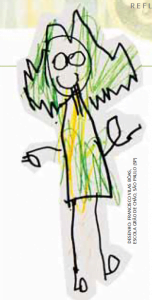
Diário da Formação
Grupo de professores de uma escola de Educação Infantil em município da Grande São Paulo
Numa das escolas em que trabalhei como formadora, várias vezes abordei com as professoras o que fazer depois de ler uma história com as crianças. O que queríamos com a leitura de um conto, de um livro de literatura infantil, que tipo de experiência desejávamos que os alunos tivessem ao lermos uma história para eles? Conversamos muitas vezes sobre esse casamento tão forte que encontramos na escola entre literatura e moral. Por que caíamos tão facilmente nas lições de moral? Numa das conversas, uma das professoras afirmou: “Porque esta foi a aproximação que tivemos com a literatura na escola; isto está muito marcado na gente, e mesmo sabendo que podemos ter outra aproximação, na hora da conversa, é muito difícil fazer diferente”. Nessas formações, discutíamos a origem dessa história toda, procurando entender a que respondia essa necessidade de educar moralmente as crianças por meio da literatura, quais eram as origens dessa união, para que ela servia. Também líamos muito nas formações, propondo outras formas de aproximação com o texto. Ler e conversar sobre o que o texto nos havia feito pensar, imaginar e sentir era o melhor caminho para que aqueles professores experimentassem outras abordagens. Depois de algumas rodas de leitura e de conversas havia chegado o momento de uma das professoras realizar a sua roda para o grupo e preparar uma conversa para depois. O texto foi muito bem escolhido. A professora preparou a leitura, tudo feito com o maior cuidado. A professora leu com entonação, preocupando-se com a escuta dos outros professores, fazendo algumas paradas estratégicas, olhando para o público, atenta que estava à forma como os ouvintes relacionavam-se com o que ela lia. Ao final da leitura, a conversa. A professora também havia planejado esse momento, mas, ao fazê-lo, foi provavelmente buscar em sua experiência de aluna o mote para a conversa. Então começou dizendo o que achava que o conto nos ensinava, que aquele texto queria nos mostrar como deveríamos agir em determinada situação. Notei que, naquele momento, corríamos o risco de que a conversa virasse um monólogo, com a professora contando ao grupo o que, “na verdade”, aquele texto queria dizer. Com isso, percebi que os professores precisam viver muitas vezes essa troca entre leitores, em especial aqueles que não tiveram essa oportunidade para além do contexto escolar.
Naquele dia, durante a formação, após a fala inicial da professora, eu acabei entrando em cena, pois
percebi que a sua fala havia tido o mesmo efeito que uma fala contundente de um professor costuma ter
nas crianças: todos se calaram, aceitando aquela verdade, deixando de pensar outras coisas sobre o texto. Acho que esse é o efeito mais sério que essa postura em relação à leitura literária, tão comum nas escolas, pode causar nos alunos. É o mais sério porque mina o que há de mais rico em relação ao nosso contato com a literatura: a construção de um diálogo pessoal com os textos.
Para mudar um pouco o cenário, propus outro caminho, falando algo do tipo: “Nossa, eu pensei algo
totalmente diferente disso. E já que andamos falando por aqui, em nossos encontros anteriores, sobre os
diferentes modos de um texto tocar seus leitores, acho importante circular outras aproximações.” E,
então, dei minha opinião sobre a história. A partir daí, outras opiniões e exemplos retirados da própria
vida surgiram e, juntos, conseguimos ampliar os sentidos e as associações que aquele texto possibilitou
para o grupo.

Outra conversa é possível
Este relato aponta para algumas questões. A necessidade de planejar a conversa, a importância de o professor se colocar como um leitor que entra em contato com o texto e pensa sobre ele, sem procurar encontrar uma lição. A importância de as opiniões diversas circularem e de múltiplos sentidos poderem ser construídos por todos que fazem parte da experiência, a necessidade – e, ao mesmo tempo, condição, da escuta em uma roda de conversa. O que será que o outro tem a dizer? Como cada um ouviu e se aproximou da história? Essa condição da conversa entre leitores deve estar sempre na mente do professor, fazer parte de seus objetivos ao planejar uma roda de conversa.
E como o professor pode se colocar em relação a um texto, de forma a propiciar essa troca? Muitas vezes, fui questionada em minhas formações sobre isso, o que revela o quanto os professores não vivenciaram conversas significativas e subjetivas depois de uma leitura. Em primeiro lugar, ele mesmo deve se fazer inúmeras perguntas depois de ler um texto, para além do “gosto ou não gosto” do texto. Alguns questionamentos podem ajudar o professor a planejar esse momento.
Por que eu gosto desse texto? O que me encanta nele? A forma como foi escrito? O que ele me faz pensar? Há algo que ele me faz lembrar? De uma cena vivida? De alguém? De outra história? Como eu poderia compartilhar isso com os alunos? Há algum texto que me emocionou? Por quê? Será que o modo como o autor escreveu o texto, escolheu as palavras, a sonoridade, me emocionou? Como poderia falar disso com os alunos? Como acho que eles se sentiriam em relação a esse texto? O que pensariam? Levando em conta o que conheço deles, acho que se encantariam com qual personagem? Por quê? Sentiriam medo? Empolgação com determinado texto? Poderiam se lembrar de outra história que já li? Qual? Ou ainda: Achei esse texto muito engraçado. Por quê? O que, na forma como o autor escreveu, torna esse texto engraçado? Há palavras inventadas? Partes absurdas? Junção de situações esquisitas,
improváveis? O que os alunos achariam disso tudo?
Enfim, são muitas as possibilidades. Claro que, a partir disso tudo, o professor vai escolher alguns caminhos, dependendo do texto, do tipo de conversa que desejar ter com os alunos, considerando que será sempre interessante variar o modo de conversar, para que algo não se fixe de modo absoluto. Por exemplo, se o professor fizer sempre uma associação com outros livros ou histórias, os alunos acabam aprendendo que conversar sobre o que leram é sempre assim, quando, na verdade, é o texto e a forma como ele nos convocou que sugerem outra conversa. Mas algo sempre precisa estar presente: o seu contato com o texto e uma curiosidade em relação ao que os alunos acharam daquela leitura, daquela experiência com o texto que acabaram de conhecer. O elemento surpresa, por mais que a conversa tenha sido muito planejada, não pode deixar de faltar. E mais, o professor não precisa se preocupar em fechar a conversa, em concluí-la. Uma conversa sobre uma leitura não precisa oferecer respostas certas; os alunos, aliás, podem sair com muitas perguntas sobre si mesmos e sobre a vida depois de uma boa conversa. Por que não?

Diário da Formação
Grupo de professores de uma escola de Educação Infantil em município da Grande São Paulo
Temos analisado, nos encontros de formação, algumas rodas de leitura, com foco na conversa entre as crianças e os professores. Ontem, tivemos um encontro muito produtivo! Senti que todos saíram felizes e com muitas questões sobre a maneira de conduzir a conversa após a leitura, sobre a forma como podemos elaborar as perguntas às crianças. A conversa que analisamos nos permitiu considerar em que lugar a professora, ao realizar diferentes tipos de perguntas, colocava os alunos e como entendia o papel do leitor. A história escolhida – O Grúfalo, de Julia Do naldson e Axel Scheffler8– fez o maior sucesso entre as crianças e permitiu muitas formas de aproximação com o mundo infantil, ao tratar de temas como medo, monstros, as artimanhas do pequeno em relação ao grande, a relação com o fantástico. No entanto, olhando para a forma como a professora fez as perguntas, pudemos concluir que, nas primeiras questões, ela se ateve ao modo tradicional de a escola pensar o leitor: não em um papel ativo, que atribui sentidos pessoais ao que se lê, fazendo relações com outras leituras, pensando sobre o enredo e sobre a sua vida, mas como aquele que dará as respostas “corretas”, de acordo com o conteúdo da história, bem ao modo antigo da “interpretação de texto”. Na medida em que a roda evoluía, observamos que a professora foi elaborando perguntas mais pessoais, que procuravam ouvir a opinião das crianças sobre o livro, fazendo-as estabelecer relações com outros monstros de outras histórias, ao refletirem sobre semelhanças e diferenças entre eles. O olhar para cada pergunta e a reflexão sobre o lugar em que a criança era colocada – como leitora ativa ou não – nos ajudou muito a tematizar9 a prática. Quais seriam as respostas possíveis para cada pergunta? Dessa maneira, saímos com uma boa “estratégia” para o planejamento da próxima roda, que é não apenas elaborar as perguntas, mas fazer um exercício de reflexão: Que tipo de resposta a pergunta permite? A partir dela, a criança consegue pensar sobre o que sentiu, consegue trazer à tona as associações que estabeleceu com aquela leitura? A análise de outras rodas de leitura e a leitura do texto da Ana Garralón, A arte de conversar com as crianças sobre suas leituras10, também ajudaram em nossas reflexões. Em conjunto, ainda pudemos pensar em algumas possibilidades de encaminhar a conversa depois da leitura de O Grúfalo. Por que não falar sobre o medo? Por que não falar sobre essa diferença de tamanhos: o ratinho, tão pequeno; o Grúfalo, tão grande e assustador? Eis aqui algumas perguntas sugeridas:
– O ratinho era tão pequenino, tão frágil, como ele não tinha medo dos outros animais? Nem do Grúfalo, que era tão monstruoso?
– E o Grúfalo, então, como medo do ratinho? Quando estava lendo, me lembrei que nós também temos medo de bichos muito menores do que a gente. Eu, por exemplo, tenho medo de barata!
– Quando estava lendo, me lembrei de outras histórias que lemos que falam de personagens pequenos
e mais espertos do que os grandes. Por que será que isso é comum nas histórias?
E por aí foram nossas conversas…


